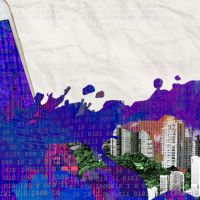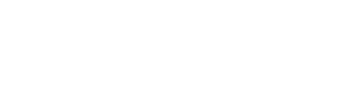Casos e ocasos
Por Rosan da Rocha - rrocharrosan@gmail.com
Rosan da Rocha é catarinense, manezinho, deísta, advogado, professor e promotor de Justiça aposentado. Sem preconceitos, é amante da natureza e segue aprendendo e conhecendo melhor o ser humano
O Estado criando seus próprios inimigos

As facções criminosas no Brasil nasceram, em grande parte, da própria violência estatal. Na década de 1970, presos políticos da ditadura militar conviviam com presos comuns no Presídio de Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Dessa convivência, surgiram ideias de organização e solidariedade entre os detentos que sofriam com a brutalidade dentro das celas.
Dessa união nasceu a Falange Vermelha, mais tarde conhecida como Comando Vermelho (CV), que defendia a união entre presos contra os abusos do Estado. Com o tempo, a facção passou a controlar o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Durante alguns anos, o Comando Vermelho se espalhou pelo país e, com a saída de dissidentes, originou outras facções menores.
Em 1993, após o massacre do Carandiru, em São Paulo — quando 111 presos foram mortos por policiais militares — surgiu o Primeiro Comando da Capital (PCC), criado no Presídio de Taubaté. Inicialmente, o grupo também pregava a união dos presos contra a opressão do Estado, mas com o passar do tempo, passou a dominar o tráfico de drogas e outras atividades criminosas.
Tanto o CV quanto o PCC cresceram aproveitando-se da ausência do Estado nas periferias, da desigualdade social e da falta de oportunidades para os mais pobres. Assim, conseguiram se infiltrar nas comunidades e dominá-las com facilidade, oferecendo o que o poder público sempre negou: presença, regras e alguma forma de proteção.
Desde então, o que se vê no Rio de Janeiro são tentativas equivocadas de combater o tráfico por meio de incursões violentas em áreas densamente povoadas. São operações que deixam um rastro de medo, prejuízos e mortes — entre elas, de trabalhadores inocentes e de crianças que aprendem cedo a se esconder dos tiros. Essas ações desorganizam o comércio local, fecham escolas e postos de saúde, e destroem o pouco de normalidade que ainda existe nas favelas.
Para prender criminosos de fato, é preciso inteligência, planejamento e precisão, não exércitos armados entrando em comunidades. Uma operação não pode ser considerada um sucesso quando deixa dezenas de mortos e dúvidas sobre quem realmente eram as vítimas. O resultado é sempre o mesmo: o caos, o medo e a dor das famílias que só querem viver em paz.
Pior é perceber que o verdadeiro chefe do tráfico raramente está na favela. Ele vive em apartamentos de luxo, movimenta fortunas e, em alguns casos, ocupa cargos políticos. As mortes nas comunidades não o atingem — apenas alimentam um ciclo de substituições e vinganças que nunca termina.
É difícil acabar completamente com o tráfico, mas é possível enfraquecer seu domínio. Para isso, não bastam fuzis nem operações midiáticas. O combate deve ser social, econômico e institucional, com presença permanente do Estado. É preciso investir em boas escolas, saúde pública, transporte digno, oportunidades de trabalho e policiamento comunitário que seja parceiro dos moradores, e não inimigo deles.
A reconstrução da confiança entre o povo e o poder público é o primeiro passo para a paz. A violência não vai cessar com mais violência. A paz duradoura só virá quando o morador da favela puder confiar mais no Estado do que no crime.







![“Eu virei turista com a Tante [Lolli] e gostei da profissão”](/fotos/202601/200_697d43c49452c.jpg)